No apagar das luzes de 2022, no dia 23 de dezembro mais precisamente, Paulo André Pires – mentor e diretor do Abril Pro Rock – veio a Natal lançar Memórias de Um Motorista de Turnês, livro que narra sua experiência na estrada como empresário e motorista de turnê de Chico Science & Nação Zumbi, entre outros causos.
O lançamento rolou na nova sede do Centro Cultural DoSol, antes da General Junkie subir ao palco para um show especial comemorativo dos 20 anos de lançamento do álbum General Junkie, e que deve abrir caminho para um novo registro, com regravações de faixas raras, como as da demo Jaz (1995). Quando chegamos na sede do DoSol, ainda no finzinho da tarde, encontramos Paulo André de bobeira, conversando com Marcelo Costa e Gustavo Lamartine (bateria e guitarra/voz da General, respectivamente) enquanto um eletricista tentava se entender com um fusível que teimou em queimar há poucas horas do início do rolé. Marcelo preferiu se concentrar no show que faria dali a pouco – um showzaço, diga-se – mas arrastamos Gustavo conosco pra tomar uma (de leve!) e conversar com Paulo André, ali por perto, na Cervejaria 1920.
A conversa correu solta, e abriu alas pra uma noite de reencontros – do General com seu público, sedento por ouvir hits como “Brinquedo do Cão”, “Típico Local”, “Quem Matou Brigitte?”; e de Paulo André com a vida pré-mangue beat, quando foi fotógrafo de carros usados e testemunha ocular da cena thrash metal da Bay Area de São Francisco. Entre show e conversa, várias lições sobre o tempo e sua face mais complexa, a memória.
Sente-se confortavelmente e pegue essa viagem que vai de Recife aos EUA, faz a volta por Natal, sobe pra Recife de novo e vai dar em reflexões sobre a decadência do rock, a nova geração de festivais brasileiros, lembranças de Chico e da Nação na Europa, e mais.
***
Hugo Morais – Quando se conversa com bandas que atingiram o “sucesso”, seja lá o que isso for, sempre se pergunta se elas imaginavam que iam chegar até onde chegaram. Você tinha essa dimensão do que ia acontecer quando começou a agenciar Chico Science, quando começou o festival lá atrás, naquela lona de circo?

Paulo André – Não, cara. Engraçado que eu nem falo disso no livro, mas agora eu dei uma entrevista para a Revista Continente, que também é da CEPE Editora, que lançou o livro. Débora Nascimento fez uma entrevista comigo de seis horas e ela fala que no primeiro Abril Pro Rock eu botei minha mãe e minha irmã na bilheteria, porque eu precisava fazer todo o resto e precisava de alguém de confiança. Elas também fizeram a prestação de contas e os pagamentos. Aí no final não sobrou nada. Zerou, empatou, pagou os percentuais das bandas, pagou o som e a luz, pagou mais umas despesas lá. Aí minha mãe falou: “E você?” Eu falei: “Não mãe, eu ganhei muito mais do que o que qualquer dinheiro possa pagar”. E ela, “Não, mas a conta daqui vai dar alta, não sei o quê, a conta do telefone”. Cara, quando você é jovem não tem conta pra pagar, né? Por isso que quando eu falo pra galera mais jovem, eu digo: “Galera, quer trabalhar com cultura, com produção, quer trabalhar com banda, viajando? Não pode ter filho agora, tem que ter filho lá pra trinta e poucos anos, porque vai atrapalhar tudo”. Ou então você não vai criar os filhos, você vai deixar com mãe, avó, um suporte ali e tal. Eu não tinha conta pra pagar, a última coisa que eu pensava era em grana. Assim a gente ia fazendo as coisas. Eu estive agora em São Cristóvão, que é uma cidade histórica de Sergipe, né? Que tem um festival, o FASC, o Festival de Artes de São Cristóvão.
Hugo – Sim, a The Baggios é de lá.
Paulo André – Isso, The Baggios é de lá. E eu lembrei de uma grande roubada que eu passei, foi em 91. Foi um festival que virou lenda lá, mas que os produtores eram meio picaretas. Era o Rock in Bica. Mermão, o Rock in Bica, velho… Eu me lembro, o dia raiado já há algum tempo, o Atack Epilético de BH tocando. O Câmbio Negro tocou, Cólera tocou. O carro da minha namorada quebrou na estrada, eu tive que pegar carona com o caminhoneiro. Eu e a namorada com o caminhoneiro, pra ir pra próxima cidade, pra arrumar uma oficina que o cara viesse pra pegar o carro… Cara, uma roubada. Eu cheguei de noite pra deixar as coisas na pousada, tomar um banho e correr achando que estava atrasado pro festival, quando eu cheguei lá não tinha nem começado. Eu falei, “Não é possível, velho”. Tudo isso me fortaleceu. Eu pensava “Caralho, tem que fazer alguma coisa, não pode ser assim” E as coisas eram assim. BIG de Salvador, que é meu amigo, também começou ali naquela época. Então você vai fazendo. Pensei que o Abril Pro Rock ia ter 5, 6 anos e depois eu ia fazer outra coisa.

Claro, eu nunca dei um passo maior do que a perna. O passo maior eu dei foi porque eu tinha uma segurança, mas essa segurança foi tirada. Que foi o seguinte: quando a gente fez o Motörhead em 2009, que foi a banda mais cara que eu já contratei, 80 mil dólares colocada, quando a gente mandou os primeiros 20 mil dólares para garantir o show e poder divulgar, a gente estava embarcando para a Womex, no saguão do aeroporto. Minha ex-sócia recebeu um telefonema, e ela era bem emotiva, pela cara dela assim eu pensei que estavam dando a notícia de que alguém tinha morrido. Mas era o cara da Petrobrás. Por causa daquela crise mundial de 2008, a Petrobrás lá de cima cortou tudo. Não era uma coisa com o Abril, era geral. Aí gente diminuiu de três dias para dois, diminuiu a quantidade de banda, deu uma enxugada geral. A partir dali eu disse: “Ó, a gente não vai mais se meter com banda desse custo não”. Tinha tido o Placebo em 2005, mas a Claro estava bancando e a gente dividiu a bilheteria com o produtor da turnê. Ali eu falei assim: a gente vai trazer banda de no máximo 20 mil dólares. Um Exodus da vida, um Brujeria, um DRI, Bad Brains. Vai oscilar entre 8 e 15 mil, pra a gente ter duas, três em vez de ficar refém de uma só.
Gustavo Lamartine – Agora, assim, de certa forma, pra você atingir o fuderoso mesmo, uma consagrada dessa, como Motörhead… Assim, todo mundo conhece, né? Às vezes talvez seja mais impactante.
Paulo André – Mas tem o seguinte, Gustavo: o Motörhead, pra playboyzada do rock, é mais underground. Pro meu azar, o Iron Maiden foi anunciado pela primeira vez no Norte/Nordeste um mês antes do Motörhead. Só que por causa do show em BH, veio pra dez dias antes do Abril. Reformularam a turnê, que tocou em Manaus, foram oito shows no Brasil. Negócio que eles nunca tinham feito. Nesse contexto é o seguinte, pra lhe explicar melhor: eu não entendia como é que o Raimundos no primeiro disco vendeu 100 mil cópias. Eu fiz o primeiro show deles em Recife também, deu mil pagantes, o show se pagou. E o Devotos, que era uma banda foda – foda ao vivo, foda na história, foda nas letras – , eu não entendia como é que 10% do público do Raimundos não comprava o Devotos, velho. Como é que se explica isso?
Gustavo –Pô, mas Raimundos era pop, cara…
Paulo André – Só que o tempo foi passando e eu fui entendendo o seguinte: o rock no Brasil tem um público grande consumidor que não frequenta o underground, nem os festivais independentes. É o tio do meu filho mais novo. Foi com a mulher ver o Pearl Jam no Rio, mas não foi no Lollapalooza, porque ele só quer ver o Pearl Jam. Ele não quer ver o Lollapalooza, um festival com um monte de banda que ele não conhece. Essa galera frequenta os bares. Hoje eu estou hospedado lá perto de um que é… Caralho, como é? Rock pra sempre…?
Hugo Morais – Sempre Rock?
Paulo André: Sempre Rock, pronto. É isso, o cara vai no Sempre Rock, ele ouve rock a noite inteira. Mas convida ele pro Open The Coffin no inferninho lá na Ribeira, ele não vai. Ele não se mistura. Então eu fui entendendo que aquele público nunca iria pro Devotos. Porque o Devotos era underground, era uma banda que tinha um negro, entendeu? Com letra que os caras não queriam ouvir, que falavam de injustiça social, o caralho.
Alexis Peixoto – É uma questão de identidade também, o cara não se identifica. O Devotos é uma banda que “ninguém conhece”, o cara não quer ir no show. Quer ir no do Raimundos, que “todo mundo conhece”…
Paulo André – Então, mas no Abril esse público foi. Foi ver Raimundos, foi ver…
Gustavo Lamartine – Mas o que festival faz é isso, né? Leva uma banda que a galera vai pra ver e aí a galera passa a conhecer as bandas [independentes]. Umas bandas que o cara acha do caralho, mas nunca teve coragem de ir [no show], porque não é pipada na mídia.
Paulo André – Pronto, o Iron Maiden eu fui no segundo show e vi que tinha um monte de boy que eu conhecia de outras épocas, de colégio, que eu nunca vi em show de rock, com as únicas duas camisas de rock que tem no guarda-roupa: Pink Floyd e Iron Maiden. E eles estavam todos lá, tá ligado? Natal tem isso, o Rio tem isso, São Paulo tem isso. E é o tempo que vai te mostrando isso. Eu vou lhe dar outro exemplo. Eu tenho problema de varizes, já me operei, fui no médico, aí o cara: “Pô, mas você é o Paulo André do Abril Pro Rock? Ah, cara, eu fui no Abril Pro Rock!” Dava pra ver que ele era uns 10 anos mais novo do que eu e tal. Aí ele falou: “Eu era amigo da galera da Weapon”. A Weapon era um hard rock farofa duma galera burguesa que tinha uns amigos que iam, levava 100 amigos pra todo show. Na pandemia fui tirar os cisos, aí o dentista perguntou com o que eu trabalhava e falei que era produtor cultural. “Já trabalhei com banda, não trabalho mais, faço um festival”. Ele perguntou, qual festival? “Abril Pro Rock”. Aí ele disse que conhecia e eu: “Nunca foi, né?”. E ele, “Fui não, você sabe né, minha mãe naquela época não deixava…” Aí eu já faço a leitura. Tanto que quando vou falar com a galera jovem eu faço uma provocação, que eu digo assim: “Galera, o Mangue vocês pensam que na época era uma coisa bombada, de muito público, mas quem tinha muito público era o axé, o pagode”. E a primeira geração das bandas com dono, Mastruz com Leite, Mel com Terra… Era isso que a juventude ia ver. Uma minoria ia no Abril, ia na Soparia. Agora vamos concordar no seguinte, perguntem aos pais de vocês, se na época dos anos 90 , se eles eram jovens entre 16 e 26 anos, perguntem se viram o show de Chico. Se não viram, perderam o bonde da história. Em que Recife eles viviam? É uma provocação que eu faço.
Outra coisa: aniversário de filho de amigo, churrasco de família. De repente, um primo ou um amigo faz: “Ó, esse aqui descobriu Chico Science, viu?”. Com vinte minutos de conversa e um mínimozinho de intimidade vem a fatal pergunta: “Mermão, ganhasse dinheiro?” Eu digo que não deu tempo. Porque o “ganhar dinheiro” que eles dizem, é se deu pra comprar um carro novo e um apartamento pra morar. Nem Chico ganhou dinheiro pra isso. Não deu tempo, o dinheiro era dividido por nove. Mas eu digo que ganhei algo muito mais importante do que dinheiro e que eu não trocaria por apartamento nenhum. Aí o cara fica assim, “Num tô entendendo”. Porque todo mundo só pensa na lógica do dinheiro.
Gustavo Lamartine – Na época [do Mangue Beat] tava sendo criado ali um movimento que, na minha opinião, depois do Tropicalismo era o mais importante do Brasil. E um movimento que Recife tava precisando pra poder potencializar o Nordeste pra cima. Não digo Bahia, por que a Bahia já tinha né. Mas é por isso que hoje existe uma cena em Natal, em João Pessoa…
Paulo André – Inclusive, eu trouxe pra Foca o cartaz do terceiro Abril que tem o General Junkie lá. Ele achava que era o quarto, aquele que teve o show de Gil que choveu e que foi bem icônico também. Mas isso foi um ano depois. A partir do segundo Abril a gente já começou a puxar as bandas de Natal, de João Pessoa, Salvador. Porque a gente tinha que fortalecer as bandas daqui. As bandas de São Paulo e Rio que as gravadoras bancassem pra vir pra cá, beleza, chegaí. Mas as daqui é que a gente tem que fortalecer.
Hugo Morais – E a Bahia, que Gustavo falou aí, desde os anos 90 também revelava bandas boas. E artistas pop também, muitas cantoras. Mas não teve essa explosão do Mangue. Tinha o Axé, claro, mas em Recife teve um movimento, um manifesto. Talvez isso tenha ajudado também.
Paulo André – É que eu acho que Salvador… [pausa] Os caras que eram do Circo Maluco Beleza, onde tiveram as quatro primeiras edições do Abril, eram donos do bloco Maluco Beleza, que era a banda Asa de Águia. E eu sabia que o Carnatal era em abril porque via no Parque da Jaqueira, que era do lado do Maluco Beleza, quatro ou cinco ônibus que a galera saía de Recife de excursão pro Carnatal.
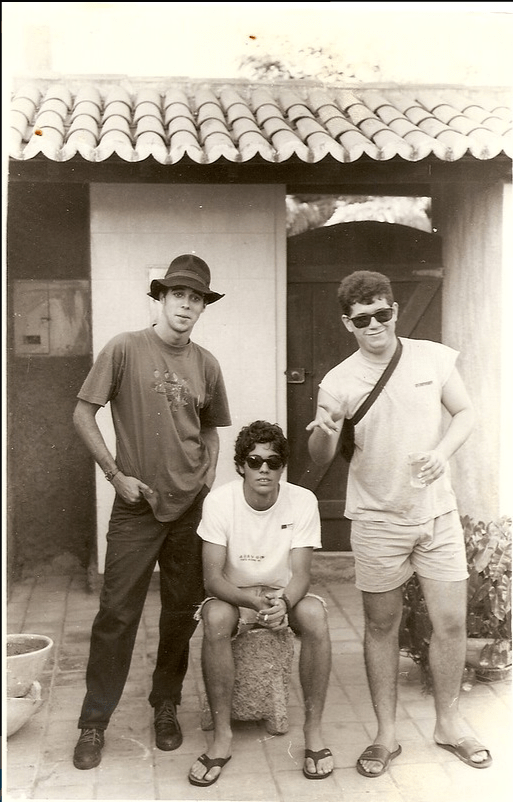
Gustavo Lamartine – Quando eu comecei a fazer banda, antes do General Junkie era o General Lee. Isso antes de começar o Carnatal, já começou a se criar uma ceninha aqui. Quando chegou o Carnatal, aquilo ofuscou a gente. Ninguém ia mais pra ver as bandas daqui, era todo mundo juntando dinheiro pra ir pro Carnatal.
Paulo André – Mudou o nome da banda por causa do seriado, foi? [Nota dos editores: No seriado Os Gatões (Dukes of Hazzard, no original), os personagens dirigiam um Dodge Charger carinhosamente apelidado de “General Lee”).
Gustavo Lamartine – Quando a gente tocou num festival aqui, veio uma galera daquelas, tipo Pedro Só e tal, e fizeram uma matéria fuderosa com o General Lee na Folha de São Paulo e no Globo. Aí tinha uma empresa de São Paulo com o nome. O cara me ligou de São Paulo e eu, “Eita, é um produtor me chamando pra gravar”! (risos) Aí o cara: “Mude o nome da banda que eu já tenho uma empresa”.
Alexis Peixoto – Paulo, vamos falar um pouco do projeto do livro. A gente tem trabalhos excelentes de pesquisadores e jornalistas sobre o Mangue mas, salvo engano, o seu é o primeiro livro que trata dessa época e que foi escrito por alguém que estava lá. Como surgiu o projeto?
Paulo André – Eu já falava há pelo menos 10 anos que eu queria fazer um livro. Mas eu não tenho disciplina pra sentar na frente do computador e escrever. Larguei os estudos na metade do ensino médio, não nasci pra isso. Eu também falo na abertura do livro que sou colecionador desde os 10 anos de idade. Colecionava selos, tampinha de garrafa da Coca-Cola que vinha com os personagens d’Os Trapalhões. Tenho inclusive os pôsters promocionais, que iam para os bares e lanchonetes. Quando me tornei profissional eu pedia tudo, cara. O cartaz, o panfleto, a coletânea. Chegava numa cidade pra tocar e tinha uma revistinha de programação cultural, eu pegava. Comprava jornal se tivesse saído matéria. Fui juntando uma memorabília.
Quando foi no final de 2017, a mãe do meu filho mais novo me deu um telefone. Aí fiz uma conta no Instagram e comecei a fotografar essa memorabília, comecei a contar essas histórias. Meu Instagram, eu nunca paguei um real subindo [os posts]. Quando chegou na pandemia eu tinha uns 5 ou 6 mil seguidores. Aí, tiveram duas datas redondas. Em 2020, os 25 anos da turnê “From Mud to Chaos” e em 2021, os 25 anos da turnê “Afrocyberdelia World Tour“. Aí eu tentei fazer dia a dia, a sequência, falar de cada show. Mas não consegui, emocionalmente era foda. Tinha dia que eu começava olhar as coisas… Aí, parava, abria uma cerveja, botava Slayer, Dead Kennedys pra entrar em outra vibe. Mas o pessoal foi chegando no Instagram, marcando os fãs. Em 2021 veio uma espécie de Aldir Blanc municipal, que era o edital Recife Virado. Aí falei pra minha irmã, que é minha sócia, pra gente botar o livro. E e ela, “Que livro? Tu nunca escreveu”. E eu disse que estava escrito, no Instagram e no Facebook.
Eu tinha sido entrevistado por três pesquisadores da FUNDAJ. Eles já tinham feito um livro sobre o Udigrudi dos anos 70 e iam fazer um sobre o Mangue Beat, para salvaguardar no acervo da Fundação. Aí, em uma das entrevistas eu falei pra um deles, Cristiano, que queria escrever um livro e ele disse que tinha interesse em colaborar. Aí eu disse que ia pegar ele pela palavra, que ia dar as contas das redes pra ele e as hashtags que eu usava. Ele foi pegando os textos, dando uma organizada, e eu ia mandando mais material.
Mas na verdade, o primeiro [livro] que eu queria fazer era um pela memória do Chico. A gente vive num país sem memória, cara. Apesar de Chico estar nos muros de Recife, nos grafites e tal, tem uma galera que não tá ligada. E no Brasil menos ainda. Eu queria fazer um livro chamado Os Inconformados, mostrando que a gente não se conformou com os problemas e dificuldades que a gente tinha por ser uma banda de Recife viajando com onze pessoas, que não tocava na rádio, que ninguém conhecia. Eu achava que esse tinha que ser o primeiro, pela memória de Chico. Em 2023, o Abril faz 30 anos e eu acho que o próximo livro vai ser sobre o Abril Pro Rock. Porque esse de Chico eu quero falar show a show. Das turnês, relação com gravadora, algumas coisas da banda. Só depois que eu recebi esse livro de agora, quando eu comecei a corrigir foi que eu me dei conta que não falo de Dengue, de Lúcio Maia. Mas eu não falo porque os caras não se envolviam. Compunham, tocavam e só. Não tinham maiores responsabilidades.
Você falou do livro dos pesquisadores, me senti desafiado. Tem o livro de Herom Vargas, que fala das letras; e tem o de Rejane Markman, que fala da estética. No livro dela diz que eu morei em Los Angeles. Mas eu morei foi em São Francisco. Ok, é California e tal, mas tem nada a ver com Los Angeles. Aí no do cara, ele copiou do dela que morei em Los Angeles. Tem três meses que eu dei um depoimento para um documentário sobre a Nação Zumbi, já sem Chico e tal. Aí quando foram gravar, antes da entrevista, eu pedi para dar um depoimento sobre a importância do documentário para pessoas sem memória em um país sem memória. Por exemplo: eu vi recentemente um vídeo de Lúcio Maia, que deve ter sido feito pra uma empresa de guitarra ou amplificador, que o entrevistador não aparecia, só aparecia ele. E o cara deve ter perguntado sobre alguma roubada que ele já tinha passado. Ele falou que uma vez perderam um voo e o empresário fretou um avião Bandeirantes pra Petrolina. O documentário é importante porque Lúcio Maia confundiu Juazeiro da Bahia, perto de Petrolina, com Juazeiro do Norte, no Ceará. Eu fretei pra Juazeiro do Norte, ele disse que foi para Petrolina. Eu piro com isso porque tenho uma memória boa e a memorabília me ajuda com isso. A história do livro vem muito da história ter que ser contada como aconteceu. Sei que outros têm que contar também. Sei que Jorge Du Peixe está com Renato L e Carlinha Sarmento fazendo um livro dos anos 90. Quanto mais melhor. As histórias que a galera mais se interessa são essas histórias da estrada que talvez os caras nem lembrem mais. E as histórias engraçadas, né? Imaginaí a galera de Peixinhos, nunca imaginaram que iam sair do Brasil, e estavam tocando pelos palcos do mundo.
Hugo Morais – Tem um paralelo com o pessoal da Fuloresta do Samba, que alguns nunca tinha saído de Nazaré da Mata, Siba falou pra gente quando veio tocar aqui. Tocaram na Europa também. Foi com você?
Paulo André – Em 2004, a gente fez a turnê com a Fuloresta do Samba e foi a primeira vez que a gente foi com uma equipe em outro carro com cinegrafista, produtor e um cara do som que era um belga. Na mesma van, um ano antes, eu fiz a tour com DJ Dolores e Orquestra Santa Massa. Siba disse: “Paulo, aqui é diferente, independente de qualquer coisa a gente tem que almoçar no horário do almoço. Não tem como pegar sanduíche de beira de estrada com os velhos não”. Aí, a gente ia nos kebab, que tinha kebab e prato feito, com carne de carneiro, salada e tal. Os velhinhos não deixavam sobrar nem um grão de arroz. Quando marcava 7h pra sair, 6h30 eles já estavam prontos com um sorriso. Um dia a gente marcou em Paris e os caras da filmagem não chegavam. E Siba é todo metódico. Disse pra gente ir embora e os caras encontravam a gente depois. Eu disse a Siba para ter paciência porque o resultado ia ser foda. Eu nunca tinha tido o prazer de fazer turnê com a galera registrando profissionalmente. Fizeram um curta, de vinte minutos no máximo, foi uma experiência incrível.
Uma amiga perguntou porque não botei o nome do livro de “Memórias de um Produtor”. Eu disse que não tinha nenhuma vergonha de dizer que fui motorista. Minha carreira internacional de motorista começou como entregador de pizza nos EUA. Agora, eu também tô desmistificando o trabalho do produtor. E Chico só se tornou um artista reconhecido porque tinha um produtor que também dirigia a van. Porque se fosse pagar um motorista com a quilometragem que a gente fez [na Europa], a grana seria só para pagar o cara. Mão-de-obra lá é extremamente valorizada. Então, o livro também é pra mostrar que mercado internacional é trabalho. É trabalho e disciplina, ninguém vai pra lá pra fazer festa.
Hugo Morais – Paulo, a narrativa do livro é cronológica?
Paulo André – É um pouco cronológico. Fala um pouco do meu início ali com a música, do show de Rick Wakeman que eu assisti quando tinha moto na adolescência. Eu fui embora pros EUA em agosto de 1986 e só volto em agosto de 1989. No meu último ano lá, eu fotografava carro usado pra um jornalzinho que era distribuído nas lojas de conveniência. E eu também distribuía o jornal e entregava pizza à noite. Um amigo meu, que tinha uma loja de discos, me mandou foto dele com a galera do Sepultura naquela vinda pra Caruaru, que também tocou no Clube de Sargentos e Subtenentes da PM, em Recife. A galera visitou a loja dele, e ele me mandou a foto, e uma Rock Brigade. Eu não conhecia a revista, comecei a ler e vi que tinha correspondente em Londres. Aí liguei pra eles e falei que eu morava em São Francisco, que estava acompanhando a cena thrash metal e o hard rock farofa de perto, e perguntei se eles queriam que eu escrevesse. Eles mandaram uma carta em inglês dizendo que eu era correspondente e tal. Aí comecei a ligar para as gravadoras para querer cobrir os shows. Eles ligavam pra São Paulo pra confirmar e deixavam recado na minha secretária eletrônica dizendo que tinha ingresso pros shows. Aí eu comecei a fotografar. A galera que fiquei mais chegado foi a do Forbidden e o cara que mais me aproximei foi Paul Bostaph, que hoje é batera do Slayer. Conheci os caras do Death Angel, o Primus abriu show, só estouraram 3 anos depois. Os caras do Mordred, fotografei e entrevistei. O Faith No More foi um dos últimos shows que vi lá, já com o “Epic” tocando nas rádios, mas tinha 150 caras num inferninho na cidade deles, não tinha estourado ainda. Isso pra mim foi uma escola, uma vivência de cena mesmo. Voltei falando inglês perfeitamente. Acho que se eu não tivesse esse background Chico não teria confiado a mim a carreira. Ele gostava de ouvir as histórias. Às vezes a gente assistindo a MTV, eu falava: “Olha o Primus, eu vi essa galera” e eu mostrava as fotos a ele, ele perguntava as histórias. Isso me credenciou.
Chico era de 1966 e eu de 1967, e eu por muito tempo achei que quando a vida era muito intensa a gente morria jovem. O tempo foi passando e eu vi que tinha que escrever o livro. Estava folheando o livro de Foca, sobre o DoSol, e como é que eu ia saber que o dono do Blackout foi assassinado pelo sócio espanhol? Que o cara da Ravanes morreu eletrocutado num show? Se não fosse o livro eu não sabia. A gente vive num país sem memória e as cenas precisam dessa memória. Aí eu digo que sou um motorista de turnê aposentado e atualmente eu sou contador de histórias. Claro que eu continuo trabalhando com produção. A gente tá preparando os 30 anos do Abril, nada grandioso, porque tem a crise financeira, dólar pipocado, mas vamo fazer uma edição bacana pra caralho. Então é isso, acho que tem que ser registrado. E as coisas mudaram muito, as carreiras estão mais curtas hoje.

Hugo Morais – Não sei se você mantém contato com os produtores mais jovens, que começaram bem depois de você. Mas como você compara essa época em que você começou com os dias de hoje?
Paulo André – Cara, por incrível que pareça, eu acho que a cena underground foi fortalecida com a pandemia. Pelas lives, merchandising, vendendo camisa, vinil, adesivo, funcionou muito. Em 2018, eu li uma notícia que me fez refletir muito. Foi o primeiro ano que o rap ultrapassou o rock em vendas online, nos Estados Unidos. Bom, os EUA é um país que pune com cadeia quem baixa música ilegalmente. Então a gente está falando de uma geração que não tem mais apego ao físico, que compra música para baixar. Quando eu li aquilo, vi que o rock ia começar a descer. Eu já vinha observando desde 2014 em festivais brasileiros, mais de música pop, que a gurizada estava mais pros beats que pras guitarras. E nem tinha a onda do trap ainda. Nos anos 1990, quando eu tinha 20 e tantos anos, eu só ouvia jazz ou blues quando tinha um bar específico. Teve aqui em Natal uma filial do Downtown. Lá em Recife abriu em 1999, quando Roger fechou a Soparia e abriu o Pina de Copacabana, que era vizinho. Nas quintas, traziam um bluesman sozinho com uma banda brasileira acompanhando. Aí a gente ia no Downtown, que era um bar de playboy, pra ver o blues. Acabava o blues a gente voltava pro Pina de Copacabana. Daqui a 15 ou 20 anos, quando as bandas clássicas pararem – o AC/DC, Ozzy que já tá andando de bengala – , o rock vai sofrer uma baixa e vai virar o que era o blues e o jazz pra mim nos anos 90. Um nichozinho de mercado. Cada cidade grande vai ter um bar que vai os coroas, alguns levam filhos e sobrinhos, mas o rock vai virar um nicho de mercado, com o passar do tempo.
E outra coisa, eu acho que o rock envelheceu mal. Eu vi que aquela banda Greta Van Fleet vai lançar um disco novo. Quando a banda surgiu, a galera dizia que era uma merda, imitação do Led Zeppelin e num sei quê. Bróder, deixa os caras fazerem o som deles. Não é pra gente não. A gente vai ver um monte de referência ali, é pra gurizada. É melhor a gurizada estar ouvindo eles.
Alexis Peixoto – Isso porque o próprio Led Zeppelin a galera detonava lá atrás, dizendo que estavam roubando Robert Johnson…
Paulo André – Né isso, deixa os caras fazerem o som deles. Aí nessa última década o Brasil piorou. Bem ou mal, você ainda tinha nas rádios pop um Capital Inicial, um Skank, um Jota Quest. Não estou falando pra gente, falo pro público em geral. Já tem algum tempo que não tem nenhuma banda pop entre as 40 músicas mais tocadas no Brasil. Eu estava conversando com Foca sobre os festivais que não resistiram, o Bananada e outros. Já faz alguns anos que eu tomei uma decisão com o Abril, que agora é assumidamente underground. A gente sempre foi, mas numa noite específica [da programação], agora é total. Na cidade já tem outros festivais. E tem uma coisa chamada legitimidade. Eu não vou fazer um festival de rap, de trap que eu não frequento, não consumo. A não ser que minha filha ou filho dissesse: “Pai, eu quero fazer uma noite”. Beleza, então venha e faça. Até falei pro Alcides de usar o slogan nos 30 anos do Abril: Cada Dia Mais Underground. Não espere da gente a música da modinha, que não vai ter. Eu prefiro acabar na resistência do que tentar competir com o Coquetel Molotov, com o Wehoo. Que aí tem uma característica desses festivais que é a galera não estar preocupada com a cena, estão preocupados com a festa. E o público por sua vez, também. No outro dia é só foto no Facebook, mas isso não significa que eles vão seguir aqueles artistas e vão em shows solo deles. Está surgindo uma nova geração de festivais no Brasil que não tem ligação com a cena. Como o DoSol aqui tem, como o Abril Pro Rock e o Rec Beat, em Recife . Como o Goiânia Noise e o Bananada em Goiânia, vários outros. Isso é geracional, é normal. A galera jovem quer é se jogar na pista.
Alexis Peixoto – Paulo, tem aquela história que Chico entregou uma fita demo pra Nick Cave em Olinda, como foi?
Paulo André – O Olodum veio tocar no Mercado Eufrásio Barbosa, em Olinda, e Nick Cave estava lá. Ele morava no Brasil na época, era casado com uma brasileira. Chico foi lá, se apresentou, falou sobre a banda dele na época, a Loustal. Nem Chico poderia imaginar que cinco anos depois, e nessa época do encontro não tinha nem o manifesto Mangue ainda, mas só cinco anos depois, na Áustria, no que seria a despedida de Chico dos palcos europeus, no festival Forestglade, num palco no meio da floresta, no último show da turnê Afrocyberdelia, Nick Cave seria a atração principal. Era o último show e eu estava articulando a volta, e não fui. Du Peixe já estava doidão e foi com Chico no camarim. Eles não tinham inglês suficiente, falaram sobre o encontro em Olinda e Nick disse que não lembrava.
Hugo Morais – Você já contou algumas histórias interessantes. Tem muitas assim no livro?
Paulo André – Tem, hoje quando eu lembro… Você imagine naquela época, eu e mais 10 caras na Europa, eu nunca tinha ido, um dinheiro diferente em cada país. Eu falava em inglês e não entendiam. Mermão, na Alemanha passou de 30 anos ninguém falava inglês. Os jovens falavam com alguma dificuldade. Na França, muito menos. Eu conto um causo de um oficial de imigração francês que parou a van, fez todo mundo descer para procurar os passaportes, e era clima de filme de nazismo. Eu ia virar a noite dirigindo e com medo dele barrar. Eu com a barriga vazia, teve uma hora que deu uma roncada tão alta que parecia um peido (risos). Pedi desculpa, se fedesse o cara me botava preso. Eu dirigindo com sono, o dia amanhecendo, tive que parar o carro. Dei uns pulos, umas carreiras, isso para chegar às 10h pro line check porque era uma das primeiras bandas num festival diurno, num parque. Essas coisas tem que ser jovem para fazer, eu não aguentaria mais. Por isso que digo que sou um motorista de turnê aposentado. Eu vendia merchandising, traduzia. Os caras queriam comprar presente pra mãe e pediam pra eu ir junto. Tinha que ir. Eu não tinha filho, então tinha tempo e paciência. A medida que meus filhos foram crescendo e demandando tempo e paciência eu deixei de trabalhar com as bandas.
Hugo Morais – Até porque é perigoso. Tem uma passagem no livro Guitarras e Ossos Quebrados de uma tour do Mukeka Di Rato que Mozine quebrou as pernas quando a van bateu.
Paulo André – Ele diz que estavam indo da Alemanha para a Romênia e o acidente foi a pouco quilômetros da Romênia. Ele diz no livro e me disse que se tivesse sido na Romênia, acha que estaria paraplégico. A sorte que foi na Alemanha. Tem uma história que não está no livro. A gente ficou hospedado em um albergue em Colonia, na Alemanha. Gilmar e Gira se desentenderam no banheiro e Gira fechou a porta na cara de Gilmar, abriu no meio da testa. Eu estou no quarto e chega Gilmar com uma toalha branca ensanguentada. Ele disse que cortou na porta do banheiro. Pedi pra ele tirar a toalha e quando tirou tava um talho, pareciam dois lábios. Desci na recepção e perguntei onde tinha um hospital próximo. Dia de semana à noite era um silêncio total. O táxi parou no estacionamento do hospital, não tinha luz acesa, recepção, nada. Perguntei se era ali mesmo e ele confirmou. Tinha uma porta, bati e veio a enfermeira. Falei que Gilmar tinha cortado a cabeça, eu disse que não falava alemão e ela respondeu alguma coisa em alemão. Mostrei Gilmar, ele tirou a toalha e mostrou o corte. Ela entrou e fechou a porta. Gilmar :”Oxe, Paulo o que foi que ela disse?”, e eu respondi que não sabia. Ela voltou com uma maca e eu disse pra ele deitar. Quando fui entrar ela não deixou. Aí tô eu sentado num banco do lado de fora, era só o barulho de vento, de folha no asfalto. Lá no final do estacionamento, no escuro, vejo um vulto branco por trás das árvores. Quando chega na entrada eu vejo que é uma mulher de camisola branca. Fui olhando e vendo que ela vinha e ia caindo. Me levantei e fui ajudar. Ela já arriando. Bati na porta de novo e lá vem a enfermeira com a porra. Acho que ela pensou que eu estava carregando os doentes da cidade tudinho. Já abriu a porta braba, reclamando. Aí, depois sai o negão com cinco pontos e um show pra fazer dois dias depois. E ele teve a inteligência emocional de não dizer que tinha tretado com Gira. Ele disse que estava de olho fechado passando shampoo, a porta abriu e ele não viu. Nesse mesmo albergue, umas 8h30 da manhã chegavam umas senhoras alemãs tirando todo mundo, e só podia voltar de 11h30 porque elas iam limpar tudo. A galera acordava xingando. Aí, a gente ia bater perna. Colonia é uma cidade linda. Canhoto [percussionista que tocou caixa em Da Lama ao Caos] tinha 18 anos. Ele dormia num banco na frente do albergue, numa praça. A gente saia, voltava e ele ainda estava dormindo. Tava nem aí, o guri. Foram cinco shows seguidos em Berlim. A gente ia nas lavanderias lavar e secar as roupas. Ele não queria mais gastar dinheiro, tocou cinco dias consecutivos com a mesma calça e a mesma camisa. Du Peixe conheceu uma brasileira fotógrafa, casada com um alemão, aí teve um rolo com Du Peixe. Ela foi fotografar e a gente tem foto pra caralho que ela deu pra gente, todo mundo com roupa diferente e Canhoto com a mesma roupa. Quando a gente voltou eu dei dois dias pra galera encontrar a família e marquei uma reunião. Ele saiu da banda. Aí entrou Pupilo e foi outra vibe, outra atmosfera, um ganho musical. Eu tenho ele [Canhoto] no Facebook. Lançou um disco, está morando nas Ilhas Canárias, casou com uma gringa. A vida tem umas oportunidades que a galera não aproveita e a vida não perdoa. Você vai eternamente pensar se pudesse voltar no tempo.
***
O papo estava bom, a cerveja também, mas nessa hora Foca ligou e nos intimou a voltar pro DoSol, já que tinha gente na fila pra comprar o livro Memórias de Um Motorista de Turnês. Se não, era capaz do papo estar rolando até agora…






Deixar mensagem para Podcast da Revista O Inimigo Entrevista: General Junkie – Revista O Inimigo Cancelar resposta